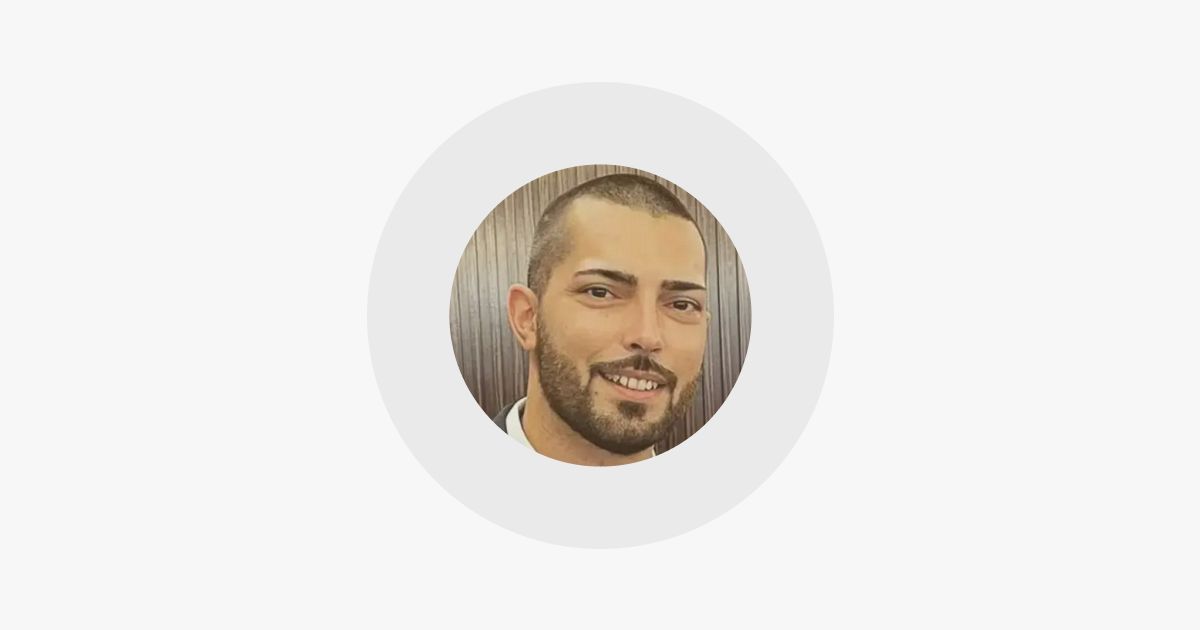
Em julho de 2025, Portugal volta a arder. As manchetes são familiares, as imagens quase repetidas de memória: vales cobertos de fumo, aldeias cercadas pelas chamas, operacionais exaustos, declarações institucionais carregadas de urgência e emoção. O incêndio em Ponte da Barca, ativo há vários dias, tornou-se o mais duradouro da temporada, já consumiu milhares de hectares de floresta e continua a exigir meios aéreos e terrestres num combate de dias. O Presidente da República sublinhou, em declarações à RTP3, a dificuldade do combate e as más condições meteorológicas. O primeiro-ministro e a ministra da Administração Interna deslocaram-se à sede da Proteção Civil para acompanhar a situação “crítica”. O tom institucional é conhecido: há “reacendimentos constantes”, “zonas de difícil acesso”, “ventos imprevisíveis” e “empenho imenso dos operacionais”. Tudo isto é verdade mas também é insuficiente.
Portugal arde todos os verões. Desde que me conheço, não me recordo de um único ano em que o país não tivesse vivido episódios de incêndios graves. Tornou-se um ritual, quase uma sina. Mas a repetição não normaliza o problema: denuncia-o. O que em tempos poderia ser atribuído a fatores excecionais, hoje representa um falhanço estrutural da política florestal, da gestão do território e da vontade política em quebrar o ciclo. Em cada verão que passa sem mudança, recordamos Pedrógão Grande. E cada vez que o fazemos, é porque a ferida continua aberta.
A tragédia de Pedrógão Grande, em junho de 2017, deveria ter sido o ponto de rutura. O incêndio matou 66 pessoas, feriu mais de 250 e destruiu cerca de 53 mil hectares de floresta e terrenos agrícolas. Foi o incêndio mais mortífero de que há registo em Portugal. Um desastre sem precedentes que abalou a consciência coletiva do país. A investigação revelou falhas graves: ausência de evacuação atempada, falta de coordenação entre entidades, comunicação ineficaz, inexistência de faixas de contenção e um território abandonado, coberto por vegetação densa e inflamável. A culpa não foi só do calor. Foi da política, da ausência de prevenção, da forma como o Estado deixou as zonas rurais ao abandono durante décadas. Jurou-se que seria o último desastre do género. Mas não foi. Quatro meses depois, em outubro de 2017, novos incêndios, desta vez centrados na região Centro, especialmente em Oliveira do Hospital e Santa Comba Dão, causaram mais de 50 mortos. A promessa de “nunca mais” durou menos de meio ano.
Desde então, algumas medidas pontuais foram tomadas. Reformas legislativas, reorganização da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, programas de limpeza de terrenos, incentivos à gestão florestal. Mas o essencial permanece por fazer. Portugal continua a tratar os incêndios como um problema de combate, não de prevenção. Continua a abordar o fogo como um fenómeno natural imprevisível, em vez de uma consequência previsível do modelo de ocupação do território, da monocultura, da ausência de planeamento e da desertificação humana.
Os dados disponíveis não deixam margem para dúvidas. Entre 1980 e 2020, Portugal foi o único país do sul da Europa em que a área ardida aumentou significativamente. Enquanto Espanha, Itália e Grécia conseguiram reduzir para menos de metade a média de hectares ardidos por 100 mil hectares de território, Portugal viu esse número crescer 65%. Na década de 1980, ardiam, em média, 865 hectares por cada 100 mil hectares de território. Em 2001–2010, o valor subiu para 1.737. Na última década, ainda que com uma ligeira descida, manteve-se em 1.427, ainda mais do dobro do registado em Itália, Espanha e Grécia no mesmo período.
Este comportamento não é explicável pelo clima. Todos estes países enfrentam temperaturas elevadas, secas prolongadas, ventos e eventos extremos. A diferença está nas políticas públicas, na gestão florestal, na capacidade de antecipação e na ocupação humana do território. Portugal destaca-se negativamente porque falha onde os outros aprenderam a corrigir.
Perante este cenário, impõe-se uma pergunta desconfortável, mas inevitável: quem é responsável por este falhanço continuado? E, ainda mais delicado, quem beneficia com a repetição do problema?
A responsabilidade é múltipla e difusa. Começa nos sucessivos governos, de diferentes cores políticas, que deixaram o interior ao abandono e falharam em implementar uma política florestal coerente, com continuidade e financiamento sustentável. Passa pelas autarquias que não aplicam medidas de ordenamento nem fiscalizam as faixas de gestão de combustível. Envolve também a estrutura do combate, que é muitas vezes planeada de forma reativa, com adjudicações de emergência, compras apressadas e contratos de meios aéreos que geram lucros avultados para poucos e pouco controlo público. Existe, e é preciso dizê-lo com clareza, uma economia que gira em torno do fogo.
Os incêndios mobilizam milhões de euros todos os anos em logística, equipamento, combustível, alojamento, meios aéreos, adjudicações de urgência e apoios extraordinários. Há empresas que vivem disso. Há câmaras que dependem desse financiamento para obras e manutenção. Há contratos que só existem porque há incêndios. E há um país que parece resignado a viver assim. A indignação dura o tempo do noticiário. Depois volta o silêncio, até ao próximo verão.
Mas não tem de ser assim. A solução não está apenas no reforço do combate, por mais heróico e necessário que ele seja. Está na prevenção. E prevenir implica mudar o modelo de gestão do território. Portugal precisa de um plano nacional de ordenamento florestal que seja executado, fiscalizado e atualizado regularmente. É urgente diversificar a floresta. É fundamental promover a agricultura de pequena escala, criar incentivos ao repovoamento do interior e apoiar financeiramente quem opta por viver e trabalhar nas zonas rurais. É necessário restaurar o corpo de guardas florestais, outrora uma peça-chave na vigilância e na educação ambiental e dotá-lo de meios técnicos, formação contínua e autonomia.
Além disso, precisamos de políticas públicas que articulem o ambiente, o ordenamento do território, a proteção civil e a coesão social. Não podemos continuar a trabalhar em compartimentos estanques. Os incêndios são o reflexo de um problema mais profundo: o país continua desequilibrado, concentrado no litoral, dependente de centros urbanos e indiferente ao interior. Enquanto isso não mudar, as chamas continuarão a ser inevitáveis.
Portugal precisa de coragem política. Não para repetir promessas em dias de cinzas, mas para agir nos dias de chuva, quando os noticiários já não falam de incêndios. É nos meses de inverno que se faz a prevenção eficaz. É quando a floresta está verde e o tempo está calmo que se devem aprovar planos, fiscalizar terrenos, cortar vegetação, limpar matos e criar corredores de segurança. É nesse momento que o investimento é mais barato, mais eficiente e menos trágico. Mas isso exige visão, vontade e compromisso.
Julho de 2025 mostra que não aprendemos. Continuamos a gerir a floresta com vista curta, a ignorar o conhecimento técnico e a adiar as decisões difíceis. Continuamos a elogiar os bombeiros, enquanto os deixamos combater um inimigo que nós mesmos deixámos crescer. Continuamos a fingir surpresa com aquilo que é, ano após ano, rigorosamente previsível.
Pedrógão Grande deveria ter sido o fim de uma era. Deveria ter marcado o início de uma nova abordagem, centrada na prevenção, na ciência, no ordenamento e no respeito pelo território. Em vez disso, tornou-se um símbolo do que não aprendemos. Uma ferida aberta que sangra todos os verões. Um marco histórico que se repete sob novas formas, em novas regiões, mas com a mesma dor e impotência.
Se queremos que o futuro seja diferente, temos de começar agora. Não depois do próximo incêndio. Não quando as câmaras filmarem as labaredas. Não quando for preciso evacuar aldeias. Agora. Porque, como a história nos ensinou, quando nada se faz, o fogo faz por nós. E cobra, sempre, o preço mais alto: o da vida, da memória e do território.